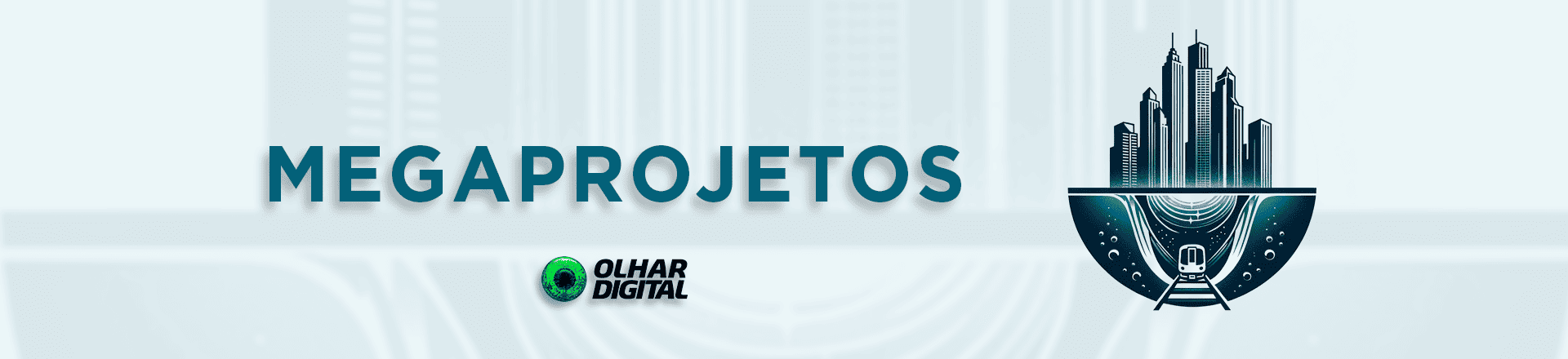
Com a onda de premiações e antecipações do Oscar e o favoritismo crescente, “1917”, de Sam Mendes, começou a ser duramente criticado. Não que seja algo ruim um filme ser criticado, e não que esse filme em específico não mereça ser criticado. Tudo pelo contrário. Mas deve-se entender o que se critica e por que se critica nesse longa que narra a missão de dois soldados ingleses, cabo Blake (Dean-Charles Chapman) e cabo Schofield (George MacKay), que devem atravessar regiões perigosas, até pouco tempo ocupadas por alemães, para levar um recado a um general que está prestes a cair numa armadilha, durante a Primeira Guerra Mundial.
Falaram da firula que seria a ideia do plano único, ou seja, um único plano sequência, sem cortes (na verdade, os cortes são poucos, e estão disfarçados) dando conta de toda a narrativa. Isso já foi feito com maior (“Arca Russa”, Alexander Sokurov, 2002) ou menor (“Birdman”, Alexandre Iñarritu, 2014) sucesso. Artifício possibilitado pelo digital. O fato de ter truques, cortes disfarçados, não importa. A ideia do plano único é que pode ou não ser problemática. O falseamento desse plano não é nem secundário na ordem estética das coisas. Que importa se houve um corte quase imperceptível no momento em que John Wayne levanta Natalie Wood em “Rastros de Ódio” (1956)? O que importa é que John Ford, diretor do filme, tenha escolhido fazer tudo em um único movimento, que a câmera não conseguiu captar de uma só vez, daí o corte disfarçado pelo movimento.
Antes, Alfred Hitchcock tinha feito a experiência em “Festim Diabólico” (1948), com a obrigação de cortes a cada 9 ou 10 minutos (o que durava um rolo de película), e esses cortes eram disfarçados quando a câmera fechava em alguma parede não iluminada ou nas costas de um ator com roupa escura. A ideia do plano único, contudo, dominava o filme, e fazia sentido. Como dominava diversos outros filmes como “Andrei Rublev” (Andrei Tarkovski, 1967) ou “A Viagem dos Comediantes” (Theo Angelopoulos, 1975), que não ousaram tanto quanto o mestre do suspense, mas souberam adequar a ideia de continuidade e movimento às possibilidades técnicas da época, com planos muito longos e uma câmera móvel, na escola de Murnau e Mizoguchi.
Imaginem se Samuel Fuller, outro entusiasta do plano-sequência, pudesse filmar seu excepcional “Mortos que Caminham” (1962), um filme de guerra, como “1917”, num único plano. Os travellings que adornam a narrativa se prolongariam ainda mais, e o filme seria totalmente invadido pela ideia de movimento. A questão é: teria Fuller feito essa escolha? Penso que não. Penso que se filmase hoje o mesmo filme, com a mesma experiência que tinha em 1962 e a mesma mentalidade, teria feito o filme num estilo muito parecido: com alguns planos-sequências em movimento, alternados com planos mais introspectivos, que valorizassem o drama.
Eis o problema da opção do plano único. Se não há a possibilidade de corte, perde-se um dos atributos mais interessantes do cinema: o corte que choca, que nos tira o chão. Não importa que o corte demore para surgir. No digital, pode haver planos de 15, 20 minutos. Quando o corte surge, porém, ele é forte, a narrativa grita, chama a atenção para algum aspecto do drama. Por isso os cineastas que se baseiam na construção do plano valorizam o momento em que surge o corte. Ele se torna mais importante.
Voltemos a “1917”, no qual não há corte, a não ser aqueles que estão escondidos em explosões ou outros artifícios. O plano único implica em movimento quase constante. Raramente a câmera para de se mover, e quando para, sente-se seu respiro, abdica-se do tripé. O momento em que o alemão acidentado num avião que cai é resgatado pelos dois soldados, mas trai um deles com uma facada, é importante, talvez o mais importante de todo o filme. Schofield vai pegar água para ajudar o alemão ferido e a câmera o acompanha. Ele ouve algo e quando se vira (e a câmera vira junto) percebe que o alemão está esfaqueando seu companheiro. Ele não hesita e logo dá um tiro no alemão, para depois socorrer o amigo (a câmera para de se mover por uns instantes durante esse socorro).
Não sei se essa foi a melhor opção para filmar esse episódio, como havia sido até então, quando esses soldados avançavam por toda uma linha que antes era ocupada pelo inimigo. Ou seja, até uns 40 minutos, a opção estava se justificando. O movimento dos soldados coincidia com o da câmera, numa conjunção benéfica para o filme. Quando surgem repentinas ameaças, a ideia do plano único pode se tornar uma limitação, a não ser que se abandone a ideia de movimento quase constante e se capte muito bem, no mesmo quadro estático, o alemão sendo socorrido pelo soldado, Schofield indo buscar água, o alemão golpeando Blake, Schofield matando o alemão e depois tentando socorrer Blake. O drama se fortaleceria, penso, e o filme ganharia densidade.
O absurdo da guerra, contudo, é devidamente representado, em cores esmaecidas, cores da Primeira Guerra Mundial. O soldado sobrevivente, cabo Schofield, tem sua missão e vai até o fim, tal como um herói de Howard Hawks (claro está que não há proximidade alguma entre os estilos de Mendes e Hawks). A fotografia, tida como linda além da conta, é na verdade, funcional. E quando é linda, a beleza é plenamente justificável.
No geral, quando a opção pelo plano-sequência também é funcional, “1917” é razoável. Quando se torna exibicionismo técnico, o que acontece com maior frequência na metade final, passa muito longe de ser bem sucedido. Seja como for, o filme como um todo pode não merecer prêmio algum, mas também está longe de ser desprezível.
* Sérgio Alpendre é crítico e professor de cinema

